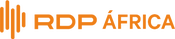Ao longo das últimas décadas, o Canal de Moçambique consolida-se como um importante corredor energético, a partir do qual circulam matérias-primas, produzidas não só em Moçambique, como nos países da região. Pelos corredores de Maputo, Beira, Nacala e Lichinga são escoadas as commodities que ajudam à estabilização dos preços energéticos nos mercados globais: carvão, gás, grafite, cobre, areias pesadas, mas também pedras preciosas. Ao longo dos corredores de transporte produzem-se um conjunto de produtos agrícolas para exportação, como açúcar, tabaco, algodão ou feijão boer, fundamental para estabilizar os preços alimentares na Índia.
No planalto de Manica, Alta Zambézia e Niassa, aumenta a procura de terras para plantações de eucaliptos, integrado em sistemas de créditos de carbono.
A intransitabilidade da Estrada Nacional nº 1, que une o Norte ao Sul do país, contrasta com o bom estado das rodovias e ferrovias que unem os portos de Moçambique ao hinterland, para o qual nunca faltou financiamento internacional. Consolida-se o carácter extractivo e extrovertido da economia moçambicana que, na verdade, constituiu uma extensão do projecto colonial.
Exceptuando alguns modelos de trabalho intensivo (como a produção de tabaco e algodão), que têm impacto na diminuição da pobreza, grande parte da indústria extractiva não tem relação com o tecido económico local. Gerando uma grande pressão sobre terras, a indústria extractiva é pouco geradora de emprego, goza de exagerados benefícios fiscais, aumenta desigualdades sociais e frustra as expectivas das populações, gerando inúmeras tensões sociais. Consciente que este modelo de desenvolvimento é profundamente gerador de exclusão e conflitualidade, o capital internacional tem sido hábil na sua forma de penetração.
Em primeiro lugar, através da constituição de alianças com as elites nacionais, que em troca da patriótica renda oferecem protecção política e fiscal, inclusivamente da unidade de intervenção rápida. Nomeados pelo governo central e não eleitos pelas populações, os administradores locais colocam-se invariavelmente do lado do capital, repetindo o slogan do empreendedorismo ou do “vamos trabalhar”. Com vista a promover uma imagem de desenvolvimento, o capital implementa as suas iniciativas de responsabilidade social corporativa, investindo quantias simbólicas na construção de escolas ou unidades sanitária em redor do projecto, sem impacto na transformação local.
As Nações Unidas, a União Europeia, a USAID e agências de desenvolvimento concentram a ajuda em torno das zonas de conflitualidade, exercendo um papel paliativo e estabilizador, reduzindo a ameaça sobre os investimentos internacionais. França e Estados Unidos ficaram famosos pela ajuda ao Ruanda na constituição de um exército competente, capaz de estabilizar militarmente zonas de conflito.
Algumas embaixadas financiam programas de “coesão social” ou de “resiliência”, promovendo debates e workshops envolvendo lideranças locais, sem qualquer impacto na mudança do sistema de relações sociais. Organizações da sociedade civil implementam esses projectos, gerando-se empregos entre jovens urbanos, que repetem acriticamente conceitos funcionalistas, executando a política do “estamos juntos”, reproduzindo o sistema de paz podre. Este modelo de penetração do capital conta com colaboração massiva nacional.